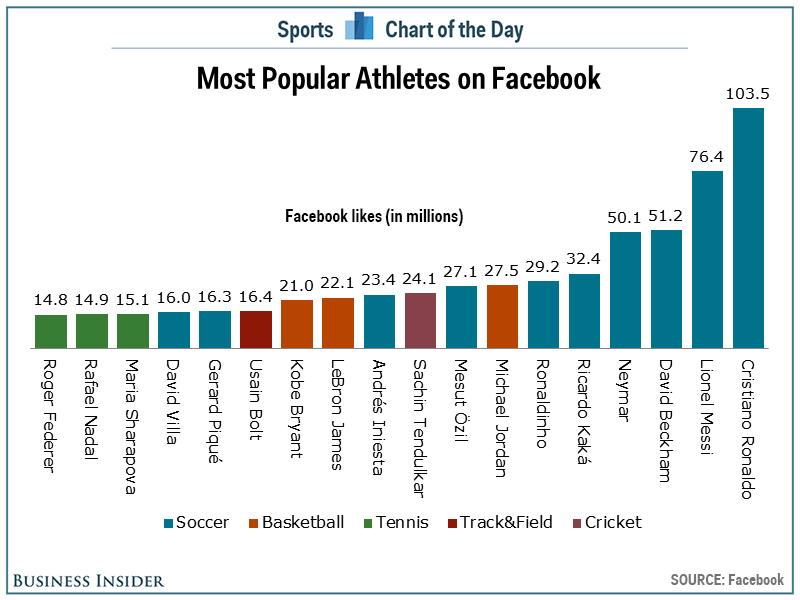The Global Warming Statistical Meltdown by Judith Curry
At the recent United Nations Climate Summit, Secretary-General Ban Ki-moon warned that “Without significant cuts in emissions by all countries, and in key sectors, the window of opportunity to stay within less than 2 degrees [of warming] will soon close forever.” Actually, this window of opportunity may remain open for quite some time. A growing body of evidence suggests that the climate is less sensitive to increases in carbon-dioxide emissions than policy makers generally assume—and that the need for reductions in such emissions is less urgent.
According to the U.N. Framework Convention on Climate Change, preventing “dangerous human interference” with the climate is defined, rather arbitrarily, as limiting warming to no more than 2 degrees Celsius (3.6 degrees Fahrenheit) above preindustrial temperatures. The Earth’s surface temperatures have already warmed about 0.8 degrees Celsius since 1850-1900. This leaves 1.2 degrees Celsius (about 2.2 degrees Fahrenheit) to go.
In its most optimistic projections, which assume a substantial decline in emissions, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) projects that the “dangerous” level might never be reached. In its most extreme, pessimistic projections, which assume heavy use of coal and rapid population growth, the threshold could be exceeded as early as 2040. But these projections reflect the effects of rising emissions on temperatures simulated by climate models, which are being challenged by recent observations.
Human-caused warming depends not only on increases in greenhouse gases but also on how “sensitive” the climate is to these increases. Climate sensitivity is defined as the global surface warming that occurs when the concentration of carbon dioxide in the atmosphere doubles. If climate sensitivity is high, then we can expect substantial warming in the coming century as emissions continue to increase. If climate sensitivity is low, then future warming will be substantially lower, and it may be several generations before we reach what the U.N. considers a dangerous level, even with high emissions.
The IPCC’s latest report (published in 2013) concluded that the actual change in 70 years if carbon-dioxide concentrations double, called the transient climate response, is likely in the range of 1 to 2.5 degrees Celsius. Most climate models have transient climate response values exceeding 1.8 degrees Celsius. But the IPCC report notes the substantial discrepancy between recent observation-based estimates of climate sensitivity and estimates from climate models.
Nicholas Lewis and I have just published a study in Climate Dynamics that shows the best estimate for transient climate response is 1.33 degrees Celsius with a likely range of 1.05-1.80 degrees Celsius. Using an observation-based energy-balance approach, our calculations used the same data for the effects on the Earth’s energy balance of changes in greenhouse gases, aerosols and other drivers of climate change given by the IPCC’s latest report.
We also estimated what the long-term warming from a doubling of carbon-dioxide concentrations would be, once the deep ocean had warmed up. Our estimates of sensitivity, both over a 70-year time-frame and long term, are far lower than the average values of sensitivity determined from global climate models that are used for warming projections. Also our ranges are narrower, with far lower upper limits than reported by the IPCC’s latest report. Even our upper limits lie below the average values of climate models.
Our paper is not an outlier. More than a dozen other observation-based studies have found climate sensitivity values lower than those determined using global climate models, including recent papers published in Environmentrics (2012),Nature Geoscience (2013) and Earth Systems Dynamics (2014). These new climate sensitivity estimates add to the growing evidence that climate models are running “too hot.” Moreover, the estimates in these empirical studies are being borne out by the much-discussed “pause” or “hiatus” in global warming—the period since 1998 during which global average surface temperatures have not significantly increased.
This pause in warming is at odds with the 2007 IPCC report, which expected warming to increase at a rate of 0.2 degrees Celsius per decade in the early 21st century. The warming hiatus, combined with assessments that the climate-model sensitivities are too high, raises serious questions as to whether the climate-model projections of 21st century temperatures are fit for making public policy decisions.
The sensitivity of the climate to increasing concentrations of carbon dioxide is a central question in the debate on the appropriate policy response to increasing carbon dioxide in the atmosphere. Climate sensitivity and estimates of its uncertainty are key inputs into the economic models that drive cost-benefit analyses and estimates of the social cost of carbon.
Continuing to rely on climate-model warming projections based on high, model-derived values of climate sensitivity skews the cost-benefit analyses and estimates of the social cost of carbon. This can bias policy decisions. The implications of the lower values of climate sensitivity in our paper, as well as similar other recent studies, is that human-caused warming near the end of the 21st century should be less than the 2-degrees-Celsius “danger” level for all but the IPCC’s most extreme emission scenario.
This slower rate of warming—relative to climate model projections—means there is less urgency to phase out greenhouse gas emissions now, and more time to find ways to decarbonize the economy affordably. It also allows us the flexibility to revise our policies as further information becomes available.
First draft
I learned a lot about writing an op-ed through this process. Below is my first draft. This morphed into the final version based on input from Nic, another journalist and another person who is experienced in writing op-eds, plus input from the WSJ editors. All of the words in the final version have been approved by me, although the WSJ editors chose the title.
The challenge is to simplify the language, but not the argument, and keep it interesting and relevant while at the same not distorting the information. Below is my first draft:
Some insensitivity about climate change
At the recent UN Climate Summit, Secretary-General Ban-Ki Moon stated: “Without significant cuts in emissions by all countries, and in key sectors, the window of opportunity to stay within less than 2 degrees will soon close forever.”
In the context of the UN Framework Convention on Climate Change, preventing ‘dangerous human interference’ with the climate has been defined – rather arbitrarily – as limiting warming to more than 2oC above preindustrial temperatures. The Earth’s surface temperatures have already warmed about 0.8oC, leaving only 1.2oC before reaching allegedly ‘dangerous’ levels. Based upon global climate model simulations, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 5th Assessment Report (AR5; 2013) projects a further increase in global mean surface temperatures with continued emissions to exceed 1.2oC sometime within the 21st century, with the timing and magnitude of the exceedance depending on future emissions.
If and when we reach this dangerous level of human caused warming depends not only on how quickly emissions rise, but also on the sensitivity of the climate to greenhouse gas induced warming. If climate sensitivity is high, then we can expect substantial warming in the coming century if greenhouse gas emissions continue to increase. If climate sensitivity is low, then future warming will be substantially lower.
Climate sensitivity is the global surface warming that occurs when the concentration of carbon dioxide in the atmosphere doubles. Equilibrium climate sensitivity refers to the rise in temperature once the climate system has fully warmed up, a process taking centuries due to the enormous heat capacity of the ocean. Transient climate response is a shorter-term measure of sensitivity, over a 70 year timeframe during which carbon dioxide concentrations double.
The IPCC AR5 concluded that equilibrium climate sensitivity is likely in the range 1.5°C to 4.5°C and the transient climate response is likely in the range of 1.0°C to 2.5°C. Climate model simulations produce values in the upper region of these ranges, with most climate models having equilibrium climate sensitivity values exceeding 3.5oC and transient climate response values exceeding 1.8oC.
At the lower end of the sensitivity ranges reported by the IPCC AR5 are values of the climate sensitivity determined using an energy budget model approach that matches global surface temperatures with greenhouse gas concentrations and other forcings (such as solar variations and aerosol forcings) over the last century or so. I coauthored a paper recently published in Climate Dynamics that used this approach to determine climate sensitivity. Our calculations used the same forcing data given by the IPCC AR5, and we included a detailed accounting of the impact of uncertainties in the forcing data on our climate sensitivity estimates.
Our results show the best (median) estimate for equilibrium climate sensitivity is 1.64oC, with a likely (17–83% probability) range of 1.25–2.45oC. The median estimate for Transient Climate Response is 1.33oC with a likely range of 10.5-1.80oC. Most significantly, our new results support narrower likely ranges for climate sensitivity with far lower upper limits than reported by the IPCC AR5. Our upper limits lie below – for equilibrium climate sensitivity, substantially below – the average values of climate models used for warming projections. The true climate sensitivity may even be lower, since the energy budget model assumes that all climate change is forced, and does not account for the effects of decadal and century scale internal variability associated with long-term ocean oscillations.
These new climate sensitivity estimates adds to the growing evidence that climate models are running ‘too hot.’ At the heart of the recent scientific debate on climate change is the ‘pause’ or ‘hiatus’ in global warming – the period since 1998 during which global average surface temperatures have not increased. This observed warming hiatus contrasts with the expectation from the 2007 IPCC Fourth Assessment Report that warming would proceed at a rate of 0.2oC/per decade in the early decades of the 21st century. The warming hiatus combined with assessments that the climate model sensitivities are too high raises serious questions as to whether the climate model projections of 21st century have much utility for decision making.
The sensitivity of our climate to increasing concentrations of carbon dioxide is at the heart of the public debate on the appropriate policy response to increasing carbon dioxide in the atmosphere. Climate sensitivity and estimates of its uncertainty are key inputs into the economic models that drive cost-benefit analyses and estimates of the social cost of carbon.
Continuing to use the higher global climate model-derived values of climate sensitivity skews the cost-benefit analyses and estimates of the social cost of carbon. The implications of the lower values of climate sensitivity in our paper is that human caused warming near the end of the 21st century should be less than the 2oC ‘danger’ level for all but the most extreme emission scenario considered by the IPCC AR5. This delay in the warming – relative to climate model projections – relaxes the phase out period for greenhouse gas emissions, allowing more time to find ways to decarbonize the economy affordably and the flexibility to revise our policies as further information becomes available.
22 dezembro 2014
Vida Pós-Graduação
Achei a música ótima!
Vida Pós-Graduação
"Preciso dar aula,
a bolsa é uma esmola,
a faculdade é longe
e eu vou de busão.
Eu tô acordando já são cinco horas
e já tô atrasado pra uma reunião.
Quero terminar, quero descansar,
dormir oito horas por dia [EU RI!!!!]
Quero ver TV,
me alimentar bem
e ir para a academia"
Parabéns pela criatividade! O meu ouvido só doeu no fim... ;)
Vida Pós-Graduação
"Preciso dar aula,
a bolsa é uma esmola,
a faculdade é longe
e eu vou de busão.
Eu tô acordando já são cinco horas
e já tô atrasado pra uma reunião.
Quero terminar, quero descansar,
dormir oito horas por dia [EU RI!!!!]
Quero ver TV,
me alimentar bem
e ir para a academia"
Parabéns pela criatividade! O meu ouvido só doeu no fim... ;)
As melhores árvores de Natal
A maior do mundo é uma árvore digital na Times Square, em Nova York, acesa nesta sexta-feira, 19, com tecnologia de última geração
A árvore de Natal mais alta do mundo foi acesa pela primeira vez nesta quinta-feira, 19, na Times Square, em Nova York. Trata-se de uma árvore digital que utiliza tecnologia de última geração. Como ela, milhares de outras árvores natalinas no mundo inteiro ajudam a animar o espírito de confraternização que tanto favorece o comércio nesta época do ano. Confira as imagens das mais famosas árvores de Natal modelo 2014:
21 dezembro 2014
Os dois lados da moeda
Os dois lados da moeda
Por Alex Ribeiro | De Brasília
Valor Econômico, 19/12/2014
O primeiro presidente do Banco Central, Denio Nogueira, mantinha-se entrincheirado no cargo naquele começo de 1967. O novo presidente linha-dura do regime militar, Arthur da Costa e Silva, queria substituí-lo por alguém mais maleável no trato da inflação, na esperança de alavancar o crescimento da economia. Mas havia um obstáculo: a lei que criara o BC apenas dois anos antes garantia independência formal à instituição e mandatos fixos a seus dirigentes.
"Não vamos pedir demissão", avisou à equipe do BC, segundo relato de um de seus diretores, Casimiro Ribeiro, em entrevista concedida 22 anos depois ao programa de história oral da Fundação Getúlio Vargas, conhecido pela sigla CPDOC/FGV. Mas Costa e Silva insistiu. Enviou mensagem ao Senado nomeando um novo presidente do BC - o economista Ruy Leme, indicado pelo poderoso ministro da Fazenda, Delfim Netto.
Os parlamentares recusaram a mensagem, alegando que os cargos não estavam vagos. A pressão aumentou a tal ponto que, em 22 de março, Nogueira jogou a toalha e enviou a Costa e Silva as cartas de renúncia de todos. Foram vencidos pelo receio do fim da independência legal do BC ou mesmo de sua extinção. "Levamos nossa resistência até um certo ponto", explicou Ribeiro ao CPDOC/FGV. "Aí, você pode até prejudicar o BC."
Hoje, às vésperas dos 50 anos da lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964 - a chamada Lei da Reforma Bancária, que incluiu a criação do BC, instalado três meses depois - a independência legal ainda é o avanço institucional que falta para criar um BC à altura de seus pares de economias desenvolvidas, com plenos poderes para cumprir a missão de garantir a estabilidade da moeda. A recente campanha eleitoral mostrou que o país não está pronto para tanto. A propaganda da reeleição da presidente Dilma Rousseff veiculou anúncios que sugeriam que dar autonomia legal ao BC é entregá-lo a banqueiros que gostam de juros altos e tiram a comida da mesa dos trabalhadores. O candidado a vice-presidente de Aécio Neves, Aloysio Nunes Ferreira (PSDB), posicionou-se contra a ideia. Só Marina Silva agregou a proposta ao seu programa de governo.
Nada disso muda o fato de que, nesses 50 anos de história, o BC teve progressos extraordinários, depois de ser criado tardiamente, muito depois dos bancos centrais de países vizinhos da América Latina, como uma instituição fraca e submissa a interesses variados, como os de ruralistas, funcionários do Banco do Brasil, industriais e governantes, que tinham suas demandas atendidas com gastos orçamentários associados à impressão de dinheiro. "No fundo, mais do que uma lei, o que cria uma instituição forte e autônoma para cumprir suas funções é a tradição criada no dia a dia", afirma o ex-presidente do BC Armínio Fraga.
O economista Octavio Gouvêa de Bulhões é o pai do BC, que nasceu em dois atos. Em 1945, ele aproveitou o fim do Estado Novo, de Getúlio Vargas, e articulou a edição de um decreto-lei que criaria a Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc), o embrião do BC.
O BC que conhecemos hoje foi aprovado pouco após o golpe militar de 1964. "Um tanto ironicamente, foram precisos dois regimes não democráticos para criar o BC. É triste. Mas é preciso dizer que nos dois casos o dr. Bulhões estava lá", comentou Ribeiro.
Bulhões, nascido no começo do século passado, foi o típico servidor público. Entrou no governo com 20 e poucos anos, para integrar o grupo que criou o Imposto de Renda no Brasil e, décadas depois, chegou a ministro da Fazenda - interino, por menos de dois meses, após a renúncia de Eugênio Gudin, até a posse de José Maria Whitaker; e, com mandato próprio no governo Castello Branco. Ajudou a formar uma geração de economistas e foi muito influente na definição da política econômica no Brasil durante muito tempo. Depois de deixar o governo, recorreu à ajuda de amigos para custear uma cirurgia nos Estados Unidos.
"O Brasil precisava ter uma moeda estável", disse Bulhões sobre a criação da Sumoc, em outro depoimento ao CPDOC/FGV, em 1990. "E, para ter uma moeda estável, precisava ter pelo menos um início de banco central." Na época, ele era um dos economistas mais preocupados com a estabilidade fiscal e monetária, nisso identificado com Eugênio Gudin, referência do pensamento econômico liberal no Brasil. "Bulhões era um pragmático, que não se prendia a ideologias", definiu, em entrevista ao Valor, o professor Antonio Dias Leite, que lecionou ao lado do futuro ministro na antiga Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas do Rio de Janeiro.
O pragmatismo fez com que Bulhões optasse por criar a Sumoc, e não um banco central clássico. "O professor Gudin achava, na época, inoportuno criar um banco central, mas que poderia fazer algo no caminho de sua criação", relatou Bulhões, na entrevista ao CPDOC/FGV. "Ele achava que, com um déficit do Tesouro grande e sem perspectivas de equilíbrio orçamentário, um BC seria inútil."
A Sumoc era uma instituição enxuta, com poucos funcionários, que tinha o objetivo de controlar a emissão de moeda e preparar o terreno para criar o BC. Havia um colegiado - o conselho - que realmente tomava as decisões. Acabou sendo dominado pelo Banco do Brasil.
Esse não foi o primeiro esforço para criar um banco central no Brasil. O economista José Júlio Senna conta em seu livro "Política Monetária: Ideias, Experiências e Evolução" que, em 1808, quando a família real portuguesa veio de Lisboa para o Rio de Janeiro, para fugir das tropas de Napoleão Bonaparte, o príncipe regente, d. João, fundou o primeiro Banco do Brasil com funções de banco central e banco comercial. Entre elas, estava manter reservas em ouro e outros metais valiosos para lastrear as emissões de dinheiro. "Quando voltou para Portugal, d. João raspou os cofres do Banco do Brasil", disse Senna em entrevista para esta reportagem. Assim, o primeiro BC do país faliu.
A onda de criação de bancos centrais na América Latina ocorreu entre as décadas de 1920 e 1930 por recomendação dos chamados "money doctors", ou terapeutas financeiros, assim chamados economistas de países ricos que visitavam a região para prescrever remédios financeiros em nome dos grandes bancos de Londres e Nova York, trabalho bem parecido com o feito hoje em dia pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Na década de 1920, o americano Edwin Kemmerer visitou vários países da América do Sul, como Colômbia, Chile, Equador e Bolívia, e inspirou a criação de vários bancos centrais. Em 1931, logo no inicio do Estado Novo, quando uma revolução com a participação de tenentes levou Getúlio Vargas ao poder, chegou ao Brasil uma missão chefiada por um diretor do Banco da Inglaterra, Sir Otto Niemeyer. Seus conselhos tinham sido decisivos para criar bancos centrais na Nova Zelândia e Argentina. Mas o governo Vargas não tocou a ideia adiante.
"Otto Niemeyer recomendou a criação de um banco central e uma série de medidas que não se coadunavam bem com a situação", disse Bulhões. "Eles queriam estabelecer o equilíbrio orçamentário numa época em que isso era praticamente impossível. Impossível e indesejável, conforme [o economista John Maynard] Keynes iria demonstrar." Bulhões provavelmente se referia ao fato de que, em meio à Grande Depressão, os governos precisavam aumentar os gastos para induzir a recuperação da economia. O padrão-ouro, então sugerido ao Brasil por Niemeyer, desmoronaria pouco depois na própria Inglaterra. "Naquele tempo, surpreendentemente, os tenentes foram keynesianos antes de Keynes", afirmou Bulhões.
A visão de Bulhões sobre a proposta de Niemeyer mostra seu estilo nada dogmático que moldaria o processo de gestação do BC, que levou quase 20 anos. Ele não era graduado em economia, mas em direito. Filho de diplomatas, quando criança viveu na França e na Áustria e aprendeu economia por conta própria, lendo clássicos, como Adam Smith, em livros da biblioteca de um tio. Mas também faria um curso de especialização em economia na American University.
"Os livros de economia eram todos em francês e não tinham nada de matemática", afirma Dias Leite, abrindo alguns volumes da biblioteca em sua casa, na Gávea. O parente mais ilustre de Bulhões foi um tio-avô, Leopoldo de Bulhões, deputado goiano que foi ministro da Fazenda de Rodrigues Alves - e defendeu a austeridade monetária na Primeira República, fazendo contraponto às propostas expansionistas de Rui Barbosa.
A principal crítica à Sumoc sempre foi o fato de que, com seu desenho institucional, estava sujeita aos propósitos dos inflacionistas do governo e, principalmente, do Banco do Brasil, com vários ralos que permitiam emitir dinheiro para financiar gastos públicos e irrigar o crédito bancário barato. Mas o interesse de Bulhões era criar um órgão que reunisse as áreas monetária e fiscal do governo para, assim, desenhar orçamentos bem definidos, numa época em que essas relações corriam frouxas. "Não aspirava propriamente a independência", explicou Bulhões. "O que aspirava era a coordenação, a coerência."
"O BC poderia ter sido criado no final da Segunda Guerra, mas talvez as instituições não estivessem preparadas", afirma o ex-presidente do BC Gustavo Loyola. "Naquela época, criar um BC representaria tirar um pedaço do poder do Banco do Brasil. Não criar o BC, e fazer a Sumoc no lugar, foi uma coisa brasileira de acomodar o jogo de interesses."
O economista e ex-presidente do BC Gustavo Franco, um dos principais estudiosos do tema, acha que a criação da Sumoc representou, em muitos aspectos, um avanço. "Se não fosse a Sumoc, não sairia nada", afirma. Mas seu desenho institucional, com um conselho dominado pelo Banco do Brasil, que decidia de fato quanto dinheiro seria emitido, foi o germe do atual Conselho Monetário Nacional (CMN). "Esse é um bicho diferente que se criou no Brasil", diz Franco. O CMN deixa a política monetária exposta a outros interesses que não a estabilidade do poder de compra da moeda. Mundo afora, os bancos centrais tomam as medidas monetárias e ponto final, sem conselhos paralelos.
Em tese, uma vez baixado o decreto-lei que criou a Sumoc, no dia seguinte deveria ter começado o trabalho para instalação de um banco central. Mas esse era um grande passo, talvez maior do que era possível na época. Significaria sair de uma estrutura mínima, da Sumoc, para montar uma grande operação, capaz de assumir serviços típicos de um banco central que eram executados pelo Banco do Brasil. Entre eles, administrar as exigências de recolhimento compulsório sobre depósitos, fazer o redesconto de títulos do sistema bancário e administrar o numerário em circulação na economia - enfim, um conjunto de atividades que, na prática, significava controlar o volume de dinheiro em circulação na economia.
Um dos obstáculos era a falta de quadros para tocar um BC - que, aos poucos, foi sendo resolvido com a formação de um pequeno pelotão de elite, que incluía nomes que integrariam a primeira diretoria colegiada do BC, como Casimiro Ribeiro e o próprio Denio Nogueira. "O departamento econômico do BC (Depec) começou a ser formado nessa época", afirma o diretor de administração do BC, Altamir Lopes, um ex-chefe do Depec.
Outra questão era aprovar a lei de criação do BC. Com a democratização do pais, em 1946, o assunto tinha que passar pelo Congresso Nacional. Lá, o objetivo de proteger o poder de compra da moeda, que é bastante difuso, concorria com outros interesses. Um projeto em tramitação tornou-se uma perigosa bola de neve, que previa a criação não apenas de um BC, mas de cinco novos bancos de fomento: industrial, agrícola, infraestrutura, hipotecário e de comércio exterior.
"Eram bancos públicos que iriam se alimentar de suprimentos do BC", explica Franco. "Se fosse assim, era melhor não criar nada. Por isso os chamados 'sumoquianos', como Bulhões e Gudin, foram contra criar o BC naqueles moldes."
Só no governo de João Goulart o projeto de lei do BC voltou a ganhar impulso, quando a inflação avançava a passos largos. O presidente resolveu incluir uma lei bancária entre suas reformas de base. Quando os militares deram o golpe, em 1964, a tramitação da proposta já estava bem adiantada. Bulhões assumiu o Ministério da Fazenda, mas, segundo depoimento de Denio Nogueira ao CPDOC/FGV em 1993, ele não estava convencido de que haveria disposição do governo para batalhar pela criação de um BC em um Congresso Nacional que ainda operava com certa independência. A preocupação maior de Bulhões naquela altura, na verdade, era barrar o projeto de reforma bancária de João Goulart, que, a seu ver, produziria mais mal do que bem. Mais tarde, ele batalharia para criar o CMN, como forma de reforçar a coordenação dos orçamentos monetário e fiscal. Nogueira afirma ter insistido na criação do BC, e acabou vencendo. "Está bem. Vá criar o seu Banco Central", teria dito Bulhões, depois de obter a aprovação do presidente Castello Branco, segundo relato de Nogueira.
Nogueira era um discípulo de Bulhões. Nasceu em 1920, em uma família de militares. Depois de se formar em engenharia, tornou-se aluno de Gudin na terceira turma do primeiro curso de economia do país, da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas do Rio de Janeiro. Mais tarde, fez pós-graduação na Universidade de Michigan, Estados Unidos. Na volta ao Brasil, integrou-se à equipe econômica de Bulhões. Entre suas várias atividades, dentro e fora do governo, está a de técnico do Instituto de Pesquisas e Estudos Especiais (Ipes), grupo de estudos financiado por empresários que mobilizava a oposição ao governo Goulart.
Nogueira negociou com o Congresso o projeto que daria origem à lei 4.595. O relator foi o deputado Ulisses Guimarães. Para atender aos diversos interesses, Nogueira teve que ceder, como no caso dos ruralistas. "O fato é que o BC nasceu distorcido", afirma Franco.
O BC foi criado com funções de fomento - uma diretoria de crédito agrícola, que abria caminho para financiar os ruralistas com subsídios e, portanto, emissão de moeda. "Foi um erro que cometemos", reconheceu Bulhões anos mais tarde. "O BC nunca deveria ter aceito essa incumbência." Nogueira achava que o modo de resistir à pressão dos ruralistas para extrair subsídios do Tesouro seria colocar a carteira agrícola sob a guarda de um BC independente.
Outra distorção no nascimento do BC foi a conta movimento, criada, a princípio, apenas para fazer um acerto de contas final da nova instituição com o Banco do Brasil, quando este passava àquele o bastão das funções de autoridade monetária. "O tempo foi passando, e o Banco do Brasil percebeu que poderia fazer mais com a conta movimento", diz Franco. A conta movimento se tornou um duto de dinheiro pelo qual o BC injetava moeda no Banco do Brasil para bancar suas operações de fomento da economia.
Junto com o BC, foi criado o CMN. Nogueira conta que foi uma ideia de Bulhões, que achava que o essencial naquele momento era ter um órgão que garantisse a coordenação entre as políticas fiscal e monetária. "Se um dia eu for chamado a opinar, sugiro a extinção do CMN", disse Nogueira. "Eu era e continuo a ser contra o CMN. O BC não precisa de CMN."
Na origem, o CMN era formado pelo ministro da Fazenda, pelos presidentes do Banco do Brasil e do BNDES e por seis membros nomeados pelo presidente da República, com mandatos de seis anos. A diretoria do BC era formada por um presidente e três diretores escolhidos entre os membros com mandato fixo do CMN. O arranjo funcionou bem enquanto a economia era comandada por Bulhões e o ministro do Planejamento, Roberto Campos, que deram prioridade ao combate à inflação. Ao longo dos anos, porém, o CMN foi sendo ampliado e, nos anos 1980, chegou a ter 27 membros, integrado por outros ministros, como o da Agricultura, e representantes de empresários e trabalhadores. Era comum que decisões fossem tomadas para atender interesses localizados, com resultantes pressões sobre o orçamento da União.
Uma fragilidade importante nesses primeiros anos do BC foi o orçamento monetário, que havia sido criado nos tempos da Sumoc como instrumento para conter a emissão de moeda e os grandes agregados monetários da economia, como o crédito. No fim das contas, tornou-se apenas mais um braço do orçamento fiscal, em que o governo definia quanto iria expandir os agregados monetários para cumprir seus objetivos de financiar investimentos e algumas atividades econômicas.
É possível que esse arranjo criado pela lei 4.595, apesar de seus vários flancos, tivesse sobrevivido bem se a independência do BC não tivesse sido violada em 1967. Ruy Leme, o escolhido por Delfim Netto após a demissão de Denio Nogueira, ficou menos de um ano na presidência do BC. Para seu lugar foi nomeado o economista Ernane Galvêas, que cumpriu o mandato de seis anos, conforme dizia a lei.
Na década de 1980, esse arranjo institucional precário já empurrava a economia para a hiperinflação, quando começaram a ser feitas algumas reformas importantes, que fortaleceram o BC. A conta movimento foi extinta; retirou-se o crédito rural do BC; o orçamento geral da União passou a englobar subsídios para operações de crédito oficial; e a Constituição de 1988 proibiu o BC de financiar o Tesouro Nacional.
Os progressos, porém, foram acompanhados de alguns passos para trás. Quando o país vivia um período de transição para a democracia, os primeiros governadores eleitos descobriram que podiam usar seus bancos estaduais como máquinas de imprimir dinheiro, sacando a descoberto em suas contas de reserva bancária mantidas no BC. O CMN tornou-se uma entidade figurativa.
Só em 1994, com a edição do Plano Real, esses problemas começaram a ser resolvidos. Gustavo Franco, um dos responsáveis pelo programa de estabilização, conta que o ideal seria ter acabado com o CMN, mas para tanto seria necessário mudar a lei 4.595, o que poderia acarretar um grande transtorno. O artigo 192 da Constituição, que tratava do assunto, previa também um teto dos juros de 12% ao ano, algo impraticável. Era impossível mudar uma coisa sem lidar com a outra. A solução encontrada foi restringir o CMN a um tamanho mínimo, vigente até hoje, com três membros: os ministros da Fazenda e do Planejamento e o presidente do BC.
Pouco depois do Plano Real, o BC enfrentou o problema dos bancos estaduais, fazendo intervenções. O governo criou um programa de saneamento dessas instituições, que levou ao fechamento ou privatização da maioria. Os poucos que restaram passaram a ser submetidos à mesma regra de supervisão dos bancos privados. Mais tarde, o governo socorreu os bancos federais, e o BC passou a vigiá-los.
O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC foi criado em 1996. Apesar de ser um órgão poderoso, responsável por elevar os juros para esfriar a economia e controlar a inflação, a base legal de sua criação é apenas uma circular do próprio BC. "Copom é o nome que foi dado a uma seção especial da diretoria do BC", diz Franco. "Não há nenhuma lei para protegê-lo, mas hoje nenhum presidente da República teria coragem de extingui-lo. É uma ideia que tem um poder muito maior do que muitas leis que não pegam no país."
O sistema de metas de inflação foi implantado três anos depois, em 1999, quando o Brasil abandonou o regime de câmbio administrado, que havia sido a principal âncora contra a inflação no Plano Real. "Quando fui convidado para assumir o BC, disse que topava se fosse para ter metas de inflação, meta fiscal e câmbio flutuante", relata Armínio Fraga. Mas a ideia já vinha sendo cogitada pouco antes disso. Em janeiro de 1999, quando o antecessor de Armínio, Francisco Lopes, estava negociando com o FMI os termos da flutuação cambial brasileira, houve um entendimento para que fosse adotado também um regime de metas de inflação.
O regime de metas de inflação também tem uma base legal frágil - um simples decreto do então presidente, Fernando Henrique Cardoso, que, em tese, pode ser revogado facilmente. "É muito frágil do ponto de vista institucional", diz Franco. "Mas nem a presidente Dilma, que tem opiniões fortes e é cheia de ideias próprias sobre o que fazer na economia, tem coragem de modificar esse decreto."
O que falta agora é a independência. Dirigentes do BC das últimas duas décadas, incluindo o atual presidente, Alexandre Tombini, são unânimes em afirmar que tiveram autonomia para pilotar a política monetária e vigiar o sistema financeiro, apesar de não haver proteção em lei. Mas, de forma geral, reconhecem que a falta de proteção legal deixa o BC vulnerável a declarações de autoridades do próprio governo contra suas decisões e a rumores que circulam no mercado.
O problema já existia no governo Lula, quando o vice-presidente da República, José Alencar, dava declarações contra a alta de juros e assessores do Palácio do Planalto plantavam notas e reportagens contra o BC. No governo Dilma, a própria presidente passou a fazer declarações contra a autonomia do BC. "Não acredito em políticas de combate à inflação que olhem a redução do crescimento econômico", disse Dilma no começo do ano passado, quando o BC começava um ciclo de aperto monetário, criando uma confusão que precisou ser corrigida por Tombini.
Em 1999, quando o regime de metas de inflação foi adotado, um memorando assinado pelo governo FHC com o FMI previa a adoção de mandatos fixos para o presidente e o restante da diretoria do BC, quarentena e mecanismos para sua demissão. "Chegamos a elaborar uma Lei de Responsabilidade Monetária, mas nunca houve consenso dentro do governo", diz Armínio. FHC, que teve que fazer duas trocas de presidentes do BC em meio a uma crise, não era partidário da ideia.
Depois que Lula assumiu, foi aprovada uma emenda constitucional que permitiu a regulamentação fatiada do artigo 192 da Constituição. Era uma forma de escapar da casca de banana do teto de 12% para os juros e tocar adiante o projeto de autonomia do BC. Mas o assunto criou tantas divisões que não foi adiante.
Por imposição de circunstâncias políticas, a autonomia do BC acabou formalmente nas mãos de um dos economistas mais admirados do país, mentor de toda uma geração e claramente comprometido com a responsabilidade monetária e fiscal. Em 1974, no começo do governo Ernesto Geisel, o ministro da Fazenda, Mario Henrique Simonsen, enviou um projeto de lei ao Congresso que acabava com os mandatos fixos. "Quando tomei posse no Ministério da Fazenda, em 1974, achei melhor, já que o AI-5 estava em vigor, tornar o presidente e os diretores do BC demissíveis pelo presidente da República", explicou Simonsen em um depoimento para o CPDOC/FGV. Numa ditadura militar, em que não havia garantias nem para quem tinha mandatos eleitos, não havia espaço para a autonomia do BC. "O Mario perdeu, tristemente", disse Casimiro Ribeiro.
Por Alex Ribeiro | De Brasília
Valor Econômico, 19/12/2014
O primeiro presidente do Banco Central, Denio Nogueira, mantinha-se entrincheirado no cargo naquele começo de 1967. O novo presidente linha-dura do regime militar, Arthur da Costa e Silva, queria substituí-lo por alguém mais maleável no trato da inflação, na esperança de alavancar o crescimento da economia. Mas havia um obstáculo: a lei que criara o BC apenas dois anos antes garantia independência formal à instituição e mandatos fixos a seus dirigentes.
"Não vamos pedir demissão", avisou à equipe do BC, segundo relato de um de seus diretores, Casimiro Ribeiro, em entrevista concedida 22 anos depois ao programa de história oral da Fundação Getúlio Vargas, conhecido pela sigla CPDOC/FGV. Mas Costa e Silva insistiu. Enviou mensagem ao Senado nomeando um novo presidente do BC - o economista Ruy Leme, indicado pelo poderoso ministro da Fazenda, Delfim Netto.
Os parlamentares recusaram a mensagem, alegando que os cargos não estavam vagos. A pressão aumentou a tal ponto que, em 22 de março, Nogueira jogou a toalha e enviou a Costa e Silva as cartas de renúncia de todos. Foram vencidos pelo receio do fim da independência legal do BC ou mesmo de sua extinção. "Levamos nossa resistência até um certo ponto", explicou Ribeiro ao CPDOC/FGV. "Aí, você pode até prejudicar o BC."
Hoje, às vésperas dos 50 anos da lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964 - a chamada Lei da Reforma Bancária, que incluiu a criação do BC, instalado três meses depois - a independência legal ainda é o avanço institucional que falta para criar um BC à altura de seus pares de economias desenvolvidas, com plenos poderes para cumprir a missão de garantir a estabilidade da moeda. A recente campanha eleitoral mostrou que o país não está pronto para tanto. A propaganda da reeleição da presidente Dilma Rousseff veiculou anúncios que sugeriam que dar autonomia legal ao BC é entregá-lo a banqueiros que gostam de juros altos e tiram a comida da mesa dos trabalhadores. O candidado a vice-presidente de Aécio Neves, Aloysio Nunes Ferreira (PSDB), posicionou-se contra a ideia. Só Marina Silva agregou a proposta ao seu programa de governo.
Nada disso muda o fato de que, nesses 50 anos de história, o BC teve progressos extraordinários, depois de ser criado tardiamente, muito depois dos bancos centrais de países vizinhos da América Latina, como uma instituição fraca e submissa a interesses variados, como os de ruralistas, funcionários do Banco do Brasil, industriais e governantes, que tinham suas demandas atendidas com gastos orçamentários associados à impressão de dinheiro. "No fundo, mais do que uma lei, o que cria uma instituição forte e autônoma para cumprir suas funções é a tradição criada no dia a dia", afirma o ex-presidente do BC Armínio Fraga.
O economista Octavio Gouvêa de Bulhões é o pai do BC, que nasceu em dois atos. Em 1945, ele aproveitou o fim do Estado Novo, de Getúlio Vargas, e articulou a edição de um decreto-lei que criaria a Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc), o embrião do BC.
O BC que conhecemos hoje foi aprovado pouco após o golpe militar de 1964. "Um tanto ironicamente, foram precisos dois regimes não democráticos para criar o BC. É triste. Mas é preciso dizer que nos dois casos o dr. Bulhões estava lá", comentou Ribeiro.
Bulhões, nascido no começo do século passado, foi o típico servidor público. Entrou no governo com 20 e poucos anos, para integrar o grupo que criou o Imposto de Renda no Brasil e, décadas depois, chegou a ministro da Fazenda - interino, por menos de dois meses, após a renúncia de Eugênio Gudin, até a posse de José Maria Whitaker; e, com mandato próprio no governo Castello Branco. Ajudou a formar uma geração de economistas e foi muito influente na definição da política econômica no Brasil durante muito tempo. Depois de deixar o governo, recorreu à ajuda de amigos para custear uma cirurgia nos Estados Unidos.
"O Brasil precisava ter uma moeda estável", disse Bulhões sobre a criação da Sumoc, em outro depoimento ao CPDOC/FGV, em 1990. "E, para ter uma moeda estável, precisava ter pelo menos um início de banco central." Na época, ele era um dos economistas mais preocupados com a estabilidade fiscal e monetária, nisso identificado com Eugênio Gudin, referência do pensamento econômico liberal no Brasil. "Bulhões era um pragmático, que não se prendia a ideologias", definiu, em entrevista ao Valor, o professor Antonio Dias Leite, que lecionou ao lado do futuro ministro na antiga Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas do Rio de Janeiro.
O pragmatismo fez com que Bulhões optasse por criar a Sumoc, e não um banco central clássico. "O professor Gudin achava, na época, inoportuno criar um banco central, mas que poderia fazer algo no caminho de sua criação", relatou Bulhões, na entrevista ao CPDOC/FGV. "Ele achava que, com um déficit do Tesouro grande e sem perspectivas de equilíbrio orçamentário, um BC seria inútil."
A Sumoc era uma instituição enxuta, com poucos funcionários, que tinha o objetivo de controlar a emissão de moeda e preparar o terreno para criar o BC. Havia um colegiado - o conselho - que realmente tomava as decisões. Acabou sendo dominado pelo Banco do Brasil.
Esse não foi o primeiro esforço para criar um banco central no Brasil. O economista José Júlio Senna conta em seu livro "Política Monetária: Ideias, Experiências e Evolução" que, em 1808, quando a família real portuguesa veio de Lisboa para o Rio de Janeiro, para fugir das tropas de Napoleão Bonaparte, o príncipe regente, d. João, fundou o primeiro Banco do Brasil com funções de banco central e banco comercial. Entre elas, estava manter reservas em ouro e outros metais valiosos para lastrear as emissões de dinheiro. "Quando voltou para Portugal, d. João raspou os cofres do Banco do Brasil", disse Senna em entrevista para esta reportagem. Assim, o primeiro BC do país faliu.
A onda de criação de bancos centrais na América Latina ocorreu entre as décadas de 1920 e 1930 por recomendação dos chamados "money doctors", ou terapeutas financeiros, assim chamados economistas de países ricos que visitavam a região para prescrever remédios financeiros em nome dos grandes bancos de Londres e Nova York, trabalho bem parecido com o feito hoje em dia pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Na década de 1920, o americano Edwin Kemmerer visitou vários países da América do Sul, como Colômbia, Chile, Equador e Bolívia, e inspirou a criação de vários bancos centrais. Em 1931, logo no inicio do Estado Novo, quando uma revolução com a participação de tenentes levou Getúlio Vargas ao poder, chegou ao Brasil uma missão chefiada por um diretor do Banco da Inglaterra, Sir Otto Niemeyer. Seus conselhos tinham sido decisivos para criar bancos centrais na Nova Zelândia e Argentina. Mas o governo Vargas não tocou a ideia adiante.
"Otto Niemeyer recomendou a criação de um banco central e uma série de medidas que não se coadunavam bem com a situação", disse Bulhões. "Eles queriam estabelecer o equilíbrio orçamentário numa época em que isso era praticamente impossível. Impossível e indesejável, conforme [o economista John Maynard] Keynes iria demonstrar." Bulhões provavelmente se referia ao fato de que, em meio à Grande Depressão, os governos precisavam aumentar os gastos para induzir a recuperação da economia. O padrão-ouro, então sugerido ao Brasil por Niemeyer, desmoronaria pouco depois na própria Inglaterra. "Naquele tempo, surpreendentemente, os tenentes foram keynesianos antes de Keynes", afirmou Bulhões.
A visão de Bulhões sobre a proposta de Niemeyer mostra seu estilo nada dogmático que moldaria o processo de gestação do BC, que levou quase 20 anos. Ele não era graduado em economia, mas em direito. Filho de diplomatas, quando criança viveu na França e na Áustria e aprendeu economia por conta própria, lendo clássicos, como Adam Smith, em livros da biblioteca de um tio. Mas também faria um curso de especialização em economia na American University.
"Os livros de economia eram todos em francês e não tinham nada de matemática", afirma Dias Leite, abrindo alguns volumes da biblioteca em sua casa, na Gávea. O parente mais ilustre de Bulhões foi um tio-avô, Leopoldo de Bulhões, deputado goiano que foi ministro da Fazenda de Rodrigues Alves - e defendeu a austeridade monetária na Primeira República, fazendo contraponto às propostas expansionistas de Rui Barbosa.
A principal crítica à Sumoc sempre foi o fato de que, com seu desenho institucional, estava sujeita aos propósitos dos inflacionistas do governo e, principalmente, do Banco do Brasil, com vários ralos que permitiam emitir dinheiro para financiar gastos públicos e irrigar o crédito bancário barato. Mas o interesse de Bulhões era criar um órgão que reunisse as áreas monetária e fiscal do governo para, assim, desenhar orçamentos bem definidos, numa época em que essas relações corriam frouxas. "Não aspirava propriamente a independência", explicou Bulhões. "O que aspirava era a coordenação, a coerência."
"O BC poderia ter sido criado no final da Segunda Guerra, mas talvez as instituições não estivessem preparadas", afirma o ex-presidente do BC Gustavo Loyola. "Naquela época, criar um BC representaria tirar um pedaço do poder do Banco do Brasil. Não criar o BC, e fazer a Sumoc no lugar, foi uma coisa brasileira de acomodar o jogo de interesses."
O economista e ex-presidente do BC Gustavo Franco, um dos principais estudiosos do tema, acha que a criação da Sumoc representou, em muitos aspectos, um avanço. "Se não fosse a Sumoc, não sairia nada", afirma. Mas seu desenho institucional, com um conselho dominado pelo Banco do Brasil, que decidia de fato quanto dinheiro seria emitido, foi o germe do atual Conselho Monetário Nacional (CMN). "Esse é um bicho diferente que se criou no Brasil", diz Franco. O CMN deixa a política monetária exposta a outros interesses que não a estabilidade do poder de compra da moeda. Mundo afora, os bancos centrais tomam as medidas monetárias e ponto final, sem conselhos paralelos.
Em tese, uma vez baixado o decreto-lei que criou a Sumoc, no dia seguinte deveria ter começado o trabalho para instalação de um banco central. Mas esse era um grande passo, talvez maior do que era possível na época. Significaria sair de uma estrutura mínima, da Sumoc, para montar uma grande operação, capaz de assumir serviços típicos de um banco central que eram executados pelo Banco do Brasil. Entre eles, administrar as exigências de recolhimento compulsório sobre depósitos, fazer o redesconto de títulos do sistema bancário e administrar o numerário em circulação na economia - enfim, um conjunto de atividades que, na prática, significava controlar o volume de dinheiro em circulação na economia.
Um dos obstáculos era a falta de quadros para tocar um BC - que, aos poucos, foi sendo resolvido com a formação de um pequeno pelotão de elite, que incluía nomes que integrariam a primeira diretoria colegiada do BC, como Casimiro Ribeiro e o próprio Denio Nogueira. "O departamento econômico do BC (Depec) começou a ser formado nessa época", afirma o diretor de administração do BC, Altamir Lopes, um ex-chefe do Depec.
Outra questão era aprovar a lei de criação do BC. Com a democratização do pais, em 1946, o assunto tinha que passar pelo Congresso Nacional. Lá, o objetivo de proteger o poder de compra da moeda, que é bastante difuso, concorria com outros interesses. Um projeto em tramitação tornou-se uma perigosa bola de neve, que previa a criação não apenas de um BC, mas de cinco novos bancos de fomento: industrial, agrícola, infraestrutura, hipotecário e de comércio exterior.
"Eram bancos públicos que iriam se alimentar de suprimentos do BC", explica Franco. "Se fosse assim, era melhor não criar nada. Por isso os chamados 'sumoquianos', como Bulhões e Gudin, foram contra criar o BC naqueles moldes."
Só no governo de João Goulart o projeto de lei do BC voltou a ganhar impulso, quando a inflação avançava a passos largos. O presidente resolveu incluir uma lei bancária entre suas reformas de base. Quando os militares deram o golpe, em 1964, a tramitação da proposta já estava bem adiantada. Bulhões assumiu o Ministério da Fazenda, mas, segundo depoimento de Denio Nogueira ao CPDOC/FGV em 1993, ele não estava convencido de que haveria disposição do governo para batalhar pela criação de um BC em um Congresso Nacional que ainda operava com certa independência. A preocupação maior de Bulhões naquela altura, na verdade, era barrar o projeto de reforma bancária de João Goulart, que, a seu ver, produziria mais mal do que bem. Mais tarde, ele batalharia para criar o CMN, como forma de reforçar a coordenação dos orçamentos monetário e fiscal. Nogueira afirma ter insistido na criação do BC, e acabou vencendo. "Está bem. Vá criar o seu Banco Central", teria dito Bulhões, depois de obter a aprovação do presidente Castello Branco, segundo relato de Nogueira.
Nogueira era um discípulo de Bulhões. Nasceu em 1920, em uma família de militares. Depois de se formar em engenharia, tornou-se aluno de Gudin na terceira turma do primeiro curso de economia do país, da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas do Rio de Janeiro. Mais tarde, fez pós-graduação na Universidade de Michigan, Estados Unidos. Na volta ao Brasil, integrou-se à equipe econômica de Bulhões. Entre suas várias atividades, dentro e fora do governo, está a de técnico do Instituto de Pesquisas e Estudos Especiais (Ipes), grupo de estudos financiado por empresários que mobilizava a oposição ao governo Goulart.
Nogueira negociou com o Congresso o projeto que daria origem à lei 4.595. O relator foi o deputado Ulisses Guimarães. Para atender aos diversos interesses, Nogueira teve que ceder, como no caso dos ruralistas. "O fato é que o BC nasceu distorcido", afirma Franco.
O BC foi criado com funções de fomento - uma diretoria de crédito agrícola, que abria caminho para financiar os ruralistas com subsídios e, portanto, emissão de moeda. "Foi um erro que cometemos", reconheceu Bulhões anos mais tarde. "O BC nunca deveria ter aceito essa incumbência." Nogueira achava que o modo de resistir à pressão dos ruralistas para extrair subsídios do Tesouro seria colocar a carteira agrícola sob a guarda de um BC independente.
Outra distorção no nascimento do BC foi a conta movimento, criada, a princípio, apenas para fazer um acerto de contas final da nova instituição com o Banco do Brasil, quando este passava àquele o bastão das funções de autoridade monetária. "O tempo foi passando, e o Banco do Brasil percebeu que poderia fazer mais com a conta movimento", diz Franco. A conta movimento se tornou um duto de dinheiro pelo qual o BC injetava moeda no Banco do Brasil para bancar suas operações de fomento da economia.
Junto com o BC, foi criado o CMN. Nogueira conta que foi uma ideia de Bulhões, que achava que o essencial naquele momento era ter um órgão que garantisse a coordenação entre as políticas fiscal e monetária. "Se um dia eu for chamado a opinar, sugiro a extinção do CMN", disse Nogueira. "Eu era e continuo a ser contra o CMN. O BC não precisa de CMN."
Na origem, o CMN era formado pelo ministro da Fazenda, pelos presidentes do Banco do Brasil e do BNDES e por seis membros nomeados pelo presidente da República, com mandatos de seis anos. A diretoria do BC era formada por um presidente e três diretores escolhidos entre os membros com mandato fixo do CMN. O arranjo funcionou bem enquanto a economia era comandada por Bulhões e o ministro do Planejamento, Roberto Campos, que deram prioridade ao combate à inflação. Ao longo dos anos, porém, o CMN foi sendo ampliado e, nos anos 1980, chegou a ter 27 membros, integrado por outros ministros, como o da Agricultura, e representantes de empresários e trabalhadores. Era comum que decisões fossem tomadas para atender interesses localizados, com resultantes pressões sobre o orçamento da União.
Uma fragilidade importante nesses primeiros anos do BC foi o orçamento monetário, que havia sido criado nos tempos da Sumoc como instrumento para conter a emissão de moeda e os grandes agregados monetários da economia, como o crédito. No fim das contas, tornou-se apenas mais um braço do orçamento fiscal, em que o governo definia quanto iria expandir os agregados monetários para cumprir seus objetivos de financiar investimentos e algumas atividades econômicas.
É possível que esse arranjo criado pela lei 4.595, apesar de seus vários flancos, tivesse sobrevivido bem se a independência do BC não tivesse sido violada em 1967. Ruy Leme, o escolhido por Delfim Netto após a demissão de Denio Nogueira, ficou menos de um ano na presidência do BC. Para seu lugar foi nomeado o economista Ernane Galvêas, que cumpriu o mandato de seis anos, conforme dizia a lei.
Na década de 1980, esse arranjo institucional precário já empurrava a economia para a hiperinflação, quando começaram a ser feitas algumas reformas importantes, que fortaleceram o BC. A conta movimento foi extinta; retirou-se o crédito rural do BC; o orçamento geral da União passou a englobar subsídios para operações de crédito oficial; e a Constituição de 1988 proibiu o BC de financiar o Tesouro Nacional.
Os progressos, porém, foram acompanhados de alguns passos para trás. Quando o país vivia um período de transição para a democracia, os primeiros governadores eleitos descobriram que podiam usar seus bancos estaduais como máquinas de imprimir dinheiro, sacando a descoberto em suas contas de reserva bancária mantidas no BC. O CMN tornou-se uma entidade figurativa.
Só em 1994, com a edição do Plano Real, esses problemas começaram a ser resolvidos. Gustavo Franco, um dos responsáveis pelo programa de estabilização, conta que o ideal seria ter acabado com o CMN, mas para tanto seria necessário mudar a lei 4.595, o que poderia acarretar um grande transtorno. O artigo 192 da Constituição, que tratava do assunto, previa também um teto dos juros de 12% ao ano, algo impraticável. Era impossível mudar uma coisa sem lidar com a outra. A solução encontrada foi restringir o CMN a um tamanho mínimo, vigente até hoje, com três membros: os ministros da Fazenda e do Planejamento e o presidente do BC.
Pouco depois do Plano Real, o BC enfrentou o problema dos bancos estaduais, fazendo intervenções. O governo criou um programa de saneamento dessas instituições, que levou ao fechamento ou privatização da maioria. Os poucos que restaram passaram a ser submetidos à mesma regra de supervisão dos bancos privados. Mais tarde, o governo socorreu os bancos federais, e o BC passou a vigiá-los.
O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC foi criado em 1996. Apesar de ser um órgão poderoso, responsável por elevar os juros para esfriar a economia e controlar a inflação, a base legal de sua criação é apenas uma circular do próprio BC. "Copom é o nome que foi dado a uma seção especial da diretoria do BC", diz Franco. "Não há nenhuma lei para protegê-lo, mas hoje nenhum presidente da República teria coragem de extingui-lo. É uma ideia que tem um poder muito maior do que muitas leis que não pegam no país."
O sistema de metas de inflação foi implantado três anos depois, em 1999, quando o Brasil abandonou o regime de câmbio administrado, que havia sido a principal âncora contra a inflação no Plano Real. "Quando fui convidado para assumir o BC, disse que topava se fosse para ter metas de inflação, meta fiscal e câmbio flutuante", relata Armínio Fraga. Mas a ideia já vinha sendo cogitada pouco antes disso. Em janeiro de 1999, quando o antecessor de Armínio, Francisco Lopes, estava negociando com o FMI os termos da flutuação cambial brasileira, houve um entendimento para que fosse adotado também um regime de metas de inflação.
O regime de metas de inflação também tem uma base legal frágil - um simples decreto do então presidente, Fernando Henrique Cardoso, que, em tese, pode ser revogado facilmente. "É muito frágil do ponto de vista institucional", diz Franco. "Mas nem a presidente Dilma, que tem opiniões fortes e é cheia de ideias próprias sobre o que fazer na economia, tem coragem de modificar esse decreto."
O que falta agora é a independência. Dirigentes do BC das últimas duas décadas, incluindo o atual presidente, Alexandre Tombini, são unânimes em afirmar que tiveram autonomia para pilotar a política monetária e vigiar o sistema financeiro, apesar de não haver proteção em lei. Mas, de forma geral, reconhecem que a falta de proteção legal deixa o BC vulnerável a declarações de autoridades do próprio governo contra suas decisões e a rumores que circulam no mercado.
O problema já existia no governo Lula, quando o vice-presidente da República, José Alencar, dava declarações contra a alta de juros e assessores do Palácio do Planalto plantavam notas e reportagens contra o BC. No governo Dilma, a própria presidente passou a fazer declarações contra a autonomia do BC. "Não acredito em políticas de combate à inflação que olhem a redução do crescimento econômico", disse Dilma no começo do ano passado, quando o BC começava um ciclo de aperto monetário, criando uma confusão que precisou ser corrigida por Tombini.
Em 1999, quando o regime de metas de inflação foi adotado, um memorando assinado pelo governo FHC com o FMI previa a adoção de mandatos fixos para o presidente e o restante da diretoria do BC, quarentena e mecanismos para sua demissão. "Chegamos a elaborar uma Lei de Responsabilidade Monetária, mas nunca houve consenso dentro do governo", diz Armínio. FHC, que teve que fazer duas trocas de presidentes do BC em meio a uma crise, não era partidário da ideia.
Depois que Lula assumiu, foi aprovada uma emenda constitucional que permitiu a regulamentação fatiada do artigo 192 da Constituição. Era uma forma de escapar da casca de banana do teto de 12% para os juros e tocar adiante o projeto de autonomia do BC. Mas o assunto criou tantas divisões que não foi adiante.
Por imposição de circunstâncias políticas, a autonomia do BC acabou formalmente nas mãos de um dos economistas mais admirados do país, mentor de toda uma geração e claramente comprometido com a responsabilidade monetária e fiscal. Em 1974, no começo do governo Ernesto Geisel, o ministro da Fazenda, Mario Henrique Simonsen, enviou um projeto de lei ao Congresso que acabava com os mandatos fixos. "Quando tomei posse no Ministério da Fazenda, em 1974, achei melhor, já que o AI-5 estava em vigor, tornar o presidente e os diretores do BC demissíveis pelo presidente da República", explicou Simonsen em um depoimento para o CPDOC/FGV. Numa ditadura militar, em que não havia garantias nem para quem tinha mandatos eleitos, não havia espaço para a autonomia do BC. "O Mario perdeu, tristemente", disse Casimiro Ribeiro.
Jeff Iliff: Sono
O cérebro usa um quarto de toda energia do corpo e, mesmo assim, tem apenas dois por cento da massa corporal. Então como esse único órgão recebe e, talvez principalmente, utiliza seus nutrientes vitais? Novas pesquisas sugerem que isso tem a ver como o sono.
20 dezembro 2014
19 dezembro 2014
Som da Sexta - Sachal Jazz Ensemble
O Som da Sexta de hoje apresenta o conjunto paquistanês Sachal Jazz Ensemble interpretando uma das músicas de Jazz mais famosas da história: Take Five, de autoria de Paul Desmond e divulgada pelo Quarteto de Dave Brubeck em 1959. O primeiro vídeo é a música original e o segundo é a versão paquistanesa. Segundo Dave Brubeck é a versão mais interessante da música Take Five. O terceiro vídeo é a versão paquistanesa da música Garota de Ipanema.
Mercado de Higiene Oral
Pensei que já tinha me acostumado à seriedade que os brasileiros dão à limpeza pessoal. Mas levei um susto quando usei o banheiro de um restaurante há alguns meses.
Apertei o que achava ser uma saboneteira, mas em vez de sabão um líquido mentolado saiu na minhas mãos. Era enxaguante bucal. Havia fio dental no banheiro também.
"Nós (os brasileiros) sorrimos muito. Toda vez que pedimos alguma coisa, nós sorrimos. Quando pedimos desculpas, sorrimos. As pessoas vêem o sorriso como uma espécie de cartão de visita", explica Ronaldo Art, gerente de marketing para higiene oral da Johnson & Johnson no Brasil.
A empresa põe sua marca de enxaguante bucal, Listerine, de graça em banheiros públicos no Brasil como forma de promover o produto. Trata-se de mais uma estratégia para abocanhar uma fatia maior do imenso bolo do mercado de higine oral no país - que tem crescido a 7% por ano.
[...]
"Todo mundo no Brasil carrega uma escova de dentes na bolsa. Na Grã-Bretanha, há uma piada de que apenas os brasileiros* escovam os dentes nos banheiros públicos."
Segundo o grupo de análises econômicas Euromonitor Internacional, o Brasil tem o maior número de dentistas do mundo. São mais de 240 mil, o que equivale a 15% dos dentistas do mundo.
Em volume geral, o mercado dental brasileiro é o terceiro do mundo, atras apenas dos EUA e da China.
Famílias brasileiras gastam o mesmo em cuidaddos orais que as americanas, ainda que a produtividade econômica brasileira seja apenas um quinto da dos EUA.
[...]
Em 2009, por exemplo, a Johnson & Johnson decidiu explorar a classe média emergente no Brasil, que não usava enxaguante bucal com a mesma frequência dos brasileiros mais ricos. A companhia criou o Essencial, de preço menor. Investiu pesado em publicidade para explicar a importância do uso do produto no asseio bucal.
Porém, através de pesquisas, a empresa descobriu que eram as classes mais altas quem estavam comprando o produto. Não era uma questão de preço: os consumidores preferiam o sabor mais suave do Essencial ao mais forte do Listerine.
A solução foi criar o Listerine Zero, de sabor atenuado. Um novo produto surgido quase que por acidente.
Já a Unilever viu suas vendas de um produto removedor de manchas nos dentes atingirem o dobro das previsões, o que interferiu com a estratégia de lançamento.
"A demanda cresceu de tal maneira que em vez de fazermos o lançamento por região tivemos que acelerar para o resto do país", explica Marcos Angelili, vice-presidente de marketing da Unilever.
A desaceleração na economia brasileira não parece assustar o segmento.
"O Brasil ainda é visto como um mercado em crescimento, enquanto a Europa e América do Norte vivem um crescimento mais lento", diz Marcel Motta, analista da Euromonitor.
"As principais marcas europeias e americanas estão aqui e imagino que elas continuarão vindo."
*Não é só brasileiro. Em Portugal há, em alguns restaurantes, uma máquina que vende um kit com uma mini escova e pasta dental. .
Apertei o que achava ser uma saboneteira, mas em vez de sabão um líquido mentolado saiu na minhas mãos. Era enxaguante bucal. Havia fio dental no banheiro também.
"Nós (os brasileiros) sorrimos muito. Toda vez que pedimos alguma coisa, nós sorrimos. Quando pedimos desculpas, sorrimos. As pessoas vêem o sorriso como uma espécie de cartão de visita", explica Ronaldo Art, gerente de marketing para higiene oral da Johnson & Johnson no Brasil.
A empresa põe sua marca de enxaguante bucal, Listerine, de graça em banheiros públicos no Brasil como forma de promover o produto. Trata-se de mais uma estratégia para abocanhar uma fatia maior do imenso bolo do mercado de higine oral no país - que tem crescido a 7% por ano.
[...]
"Todo mundo no Brasil carrega uma escova de dentes na bolsa. Na Grã-Bretanha, há uma piada de que apenas os brasileiros* escovam os dentes nos banheiros públicos."
Segundo o grupo de análises econômicas Euromonitor Internacional, o Brasil tem o maior número de dentistas do mundo. São mais de 240 mil, o que equivale a 15% dos dentistas do mundo.
Em volume geral, o mercado dental brasileiro é o terceiro do mundo, atras apenas dos EUA e da China.
Famílias brasileiras gastam o mesmo em cuidaddos orais que as americanas, ainda que a produtividade econômica brasileira seja apenas um quinto da dos EUA.
[...]
Em 2009, por exemplo, a Johnson & Johnson decidiu explorar a classe média emergente no Brasil, que não usava enxaguante bucal com a mesma frequência dos brasileiros mais ricos. A companhia criou o Essencial, de preço menor. Investiu pesado em publicidade para explicar a importância do uso do produto no asseio bucal.
Porém, através de pesquisas, a empresa descobriu que eram as classes mais altas quem estavam comprando o produto. Não era uma questão de preço: os consumidores preferiam o sabor mais suave do Essencial ao mais forte do Listerine.
A solução foi criar o Listerine Zero, de sabor atenuado. Um novo produto surgido quase que por acidente.
Já a Unilever viu suas vendas de um produto removedor de manchas nos dentes atingirem o dobro das previsões, o que interferiu com a estratégia de lançamento.
"A demanda cresceu de tal maneira que em vez de fazermos o lançamento por região tivemos que acelerar para o resto do país", explica Marcos Angelili, vice-presidente de marketing da Unilever.
A desaceleração na economia brasileira não parece assustar o segmento.
"O Brasil ainda é visto como um mercado em crescimento, enquanto a Europa e América do Norte vivem um crescimento mais lento", diz Marcel Motta, analista da Euromonitor.
"As principais marcas europeias e americanas estão aqui e imagino que elas continuarão vindo."
*Não é só brasileiro. Em Portugal há, em alguns restaurantes, uma máquina que vende um kit com uma mini escova e pasta dental. .
18 dezembro 2014
Redução da horas trabalhadas e a produtividade
DO YOU work too much? Last year we wrote a jolly piece that found an interesting correlation between working hours and output. With higher working hours, labour output per hour fell. Here’s that graph again:
That graph, though, is just a correlation: that's not good enough for many economists. But a new paper, by John Pencavel of Stanford University, also shows that reducing working hours can be good for productivity.
Economists have suspected for some time that longer work hours could eat into productivity. John Hicks, a British economist, reckoned that “probably it has never entered the heads of most employers…that hours could be shortened and output maintained.” Hicks reasoned that with longer hours, output per hour would fall. As workers slaved away for longer and longer, they would lose energy, which would make them less productive.
Mr Pencavel looks at an unusual data set: research undertaken by investigators of the British “Health of Munition Workers Committee” (HMWC) during the first world war. Britain was desperate to maximise productivity, given the almost insatiable demand for weapons and ammunition. HMWC had to provide the government with advice regarding the health and efficiency of workers in munitions plants: how could productivity be maximised? As part of its investigations, the Committee commissioned studies within munitions factories into the link between work hours and work performance.
It concluded, after much investigation, that British munitions workers needed shorter hours. Mr Pencavel analyses at the data collected by the committee and sees if their calculations were up-to-scratch.
The researchers collected a huge amount of data (most of it on women, who dominated the munitions industries). It was easy to measure hours worked. It was also pretty straightforward to measure output, since lots of the workers were paid on a piece-rate basis. Mr Pencavel crunches the data and concludes that there was a “non-linear” relationship between working hours and output. Below 49 weekly hours, variations in output are proportional to variations in hours. But when people worked more than about 50 hours, output rose at a decreasing rate. In other words, output per hour started to fall (in the jargon, “the marginal product of hours is a constant until the knot at [about 50] hours after which it declines”). To get an idea, look at the raw data in the graph below:
Weekly output and weekly hours: 82 observations on women turning fuze bodies and milling screw threads on fuze bodies
Reducing hours, say, from 55 to 50 hours a week, would have had only small effects on output. The results are even starker when we are talking about very long working hours. Output at 70 hours of work differed little from output at 56 hours. That extra 14 hours was a waste of time.
The crucial point that emerges from Mr Percavel's analysis is that reductions in working hours do not always result in higher output per hour (which is what our initial correlation seemed to suggest). Rather, the initial level of working hours has to be so high. This graph is based on his regression analysis:
Marginal product of hours and average product of hours (as suggested by Mr Percavel's analysis)
The HMWC also reckoned that the absence of a rest day (like Sunday) damaged hourly output. Mr Pencavel’s regression analysis confirms it. He estimates that output is slightly higher on the 48-hour working week (with no work on Sunday) than on the seven-day work schedule.
Of course, these results say nothing about output in service-sector professions, where most people in advanced economies are employed today. I would bet, though, that the results are even more pronounced. For work that is largely self-directed, and which requires intellectual engagement, you may achieve more in an hour of hard work than in a day’s worth of procrastination. Mr Pencavel solemnly intones that the “profit-maximising employer will not be indifferent to the length of…working hours over a day or week.” Try telling that to your boss the next time you attempt to leave the office at half past two.
Fonte: aqui
Revistas velhas
Os consultórios geralmente possuem revistas velhas por uma razão: roubo. Segundo uma pesquisa publicada no British Medical Journal (via aqui) as revistas de fofocas são aquelas mais propensas as serem levadas pelos clientes; já revistas que não são de fofocas (The Economist e Time) não são objeto de "roubos" nos consultórios.
E eu que pensava que isto era coisa de consultório de país subdesenvolvido...
E eu que pensava que isto era coisa de consultório de país subdesenvolvido...
Petrobras 4
A presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, afirmou nesta quarta-feira que ficará no cargo enquanto a presidente Dilma Rousseff quiser, mas não descartou eventual saída de toda a diretoria da estatal para que a publicação do balanço auditado, que está atrasada, possa ocorrer.
"Hoje estou aqui presidente da Petrobras enquanto eu contar com a confiança da Presidência, e ela entender que eu deva ficar", afirmou Graça Foster, como prefere ser chamada, durante café da manhã com jornalistas.
"Minha motivação é não travar a assinatura do balanço da Petrobras por conta da investigação", acrescentou.
Na última sexta-feira, a Petrobras adiou novamente a divulgação das demonstrações contábeis não auditadas do terceiro trimestre de 2014 para até 31 de janeiro, devido a "novos fatos" relacionados à operação Lava Jato que investiga um suposto esquema de corrupção na estatal.
O novo adiamento foi possível porque os credores aceitaram mudanças nos termos contratuais dos bônus (covenants) que tratam dos prazos para a apresentação dos resultados, eliminando o risco de a empresa ter que pagar antecipadamente parte da dívida crescente. (Brasil Econômico)
O título do texto do jornal é: Graça Foster pode renunciar para não atrasar mais balanço do 3º trimestre.
"Hoje estou aqui presidente da Petrobras enquanto eu contar com a confiança da Presidência, e ela entender que eu deva ficar", afirmou Graça Foster, como prefere ser chamada, durante café da manhã com jornalistas.
"Minha motivação é não travar a assinatura do balanço da Petrobras por conta da investigação", acrescentou.
Na última sexta-feira, a Petrobras adiou novamente a divulgação das demonstrações contábeis não auditadas do terceiro trimestre de 2014 para até 31 de janeiro, devido a "novos fatos" relacionados à operação Lava Jato que investiga um suposto esquema de corrupção na estatal.
O novo adiamento foi possível porque os credores aceitaram mudanças nos termos contratuais dos bônus (covenants) que tratam dos prazos para a apresentação dos resultados, eliminando o risco de a empresa ter que pagar antecipadamente parte da dívida crescente. (Brasil Econômico)
O título do texto do jornal é: Graça Foster pode renunciar para não atrasar mais balanço do 3º trimestre.
Petrobras 3
A Controladoria-Geral da União (CGU) apontou perdas de R$ 659,4 milhões da Petrobras na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, e determinou a instauração de processos administrativos contra ex-executivos da estatal, entre eles o ex-presidente José Sérgio Gabrielli.
A auditoria da CGU foi concluída na terça-feira e seu resultado está sendo divulgado nesta quarta-feira.
"O trabalho da controladoria registra que a aquisição da refinaria foi realizada por um valor superior àquele considerado justo, se levado em conta o estado em que Pasadena se encontrava à época", informou o CGU em nota à imprensa.
O relatório de auditoria foi encaminhado na terça-feira à Petrobras "para que a estatal possa adotar as providências necessárias no sentido de buscar, judicial ou extrajudicialmente, o ressarcimento do dano". (Brasil Econômico)
Agora?
A auditoria da CGU foi concluída na terça-feira e seu resultado está sendo divulgado nesta quarta-feira.
"O trabalho da controladoria registra que a aquisição da refinaria foi realizada por um valor superior àquele considerado justo, se levado em conta o estado em que Pasadena se encontrava à época", informou o CGU em nota à imprensa.
O relatório de auditoria foi encaminhado na terça-feira à Petrobras "para que a estatal possa adotar as providências necessárias no sentido de buscar, judicial ou extrajudicialmente, o ressarcimento do dano". (Brasil Econômico)
Agora?
Petrobras 2
A presidente da Petrobras, Graças Foster, disse nesta quarta-feira (17) que não há "a menor segurança" de que o balanço contábil da empresa do terceiro trimestre, atrasado desde 14 de novembro, trará todos os descontos que devem ser feitos nos ativos que possam ser atribuídos ao esquema de corrupção investigado na empresa. (Folha de S. Paulo)
Uma baixa contábil superestimado pode gerar processos (e multas) que a empresa não quer. Subestimado significará que a empresa voltou a apresentar informações inadequadas.Mas será razoável imaginar que a empresa irá conseguir obter isto em algum momento? Tenho dúvidas.
Uma baixa contábil superestimado pode gerar processos (e multas) que a empresa não quer. Subestimado significará que a empresa voltou a apresentar informações inadequadas.Mas será razoável imaginar que a empresa irá conseguir obter isto em algum momento? Tenho dúvidas.
Petrobras 1
Segundo o Valor Econômico
A presidente da Petrobras, Graça Foster, admitiu nesta quarta-feira que a companhia deverá investir menos em 2015, na comparação com este ano. Segundo ela, a redução deverá ser motivada pela queda do valor do petróleo brent e pela desvalorização do real.
Não somente isto. A mudança nos sistemas de controles internos, a desconfiança em cada contrato já existente e aqueles que serão firmados em 2015, os problemas com os fornecedores e os problemas de liquidez que a empresa irá enfrentar.
A presidente da Petrobras, Graça Foster, admitiu nesta quarta-feira que a companhia deverá investir menos em 2015, na comparação com este ano. Segundo ela, a redução deverá ser motivada pela queda do valor do petróleo brent e pela desvalorização do real.
Não somente isto. A mudança nos sistemas de controles internos, a desconfiança em cada contrato já existente e aqueles que serão firmados em 2015, os problemas com os fornecedores e os problemas de liquidez que a empresa irá enfrentar.
17 dezembro 2014
Curso de Contabilidade Básica: Comparabilidade
A comparabilidade permite que o usuário da informação contábil possa avaliar melhor o desempenho de uma empresa. Quando ocorre uma mudança na forma de mensuração, por exemplo, o ideal seria a apresentação das informações do passado sob a mesma métrica. Esta alteração na forma de medir pode ocorrer por vários motivos e o usuário espera que a mudança seja para melhor informar a situação da empresa.
Mas nem sempre a comparabilidade é respeitada. E isto cria dificuldades para avaliar o desempenho da empresa. Veja o caso da empresa Log Commercial Properties. Esta empresa pertence ao grupo MRV Engenharia e atua na incorporação, construção e aluguel de imóveis, incluindo galpões industriais. No final do segundo semestre de 2014 a empresa resolveu mudar a forma de avaliar seus investimentos em propriedades, do método de custo pelo valor justo.
A alteração irá aumentar o patrimônio líquido, de 740 milhões para 1.204 milhões de reais, um valor expressivo para uma empresa que possui um ativo de R$2,5 bilhões. A empresa não irá reapresentar as informações comparativas e simplesmente fazer o ajuste. Isto naturalmente impede uma comparação. A favor da empresa seria realmente difícil refazer todas as demonstrações anteriores, já que esta diferença provavelmente estaria diluída em diversos exercícios sociais.
Nestas situações, o usuário deve ter um imenso cuidado na comparação das informações entre o exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 e os valores posteriores.
Mas nem sempre a comparabilidade é respeitada. E isto cria dificuldades para avaliar o desempenho da empresa. Veja o caso da empresa Log Commercial Properties. Esta empresa pertence ao grupo MRV Engenharia e atua na incorporação, construção e aluguel de imóveis, incluindo galpões industriais. No final do segundo semestre de 2014 a empresa resolveu mudar a forma de avaliar seus investimentos em propriedades, do método de custo pelo valor justo.
A alteração irá aumentar o patrimônio líquido, de 740 milhões para 1.204 milhões de reais, um valor expressivo para uma empresa que possui um ativo de R$2,5 bilhões. A empresa não irá reapresentar as informações comparativas e simplesmente fazer o ajuste. Isto naturalmente impede uma comparação. A favor da empresa seria realmente difícil refazer todas as demonstrações anteriores, já que esta diferença provavelmente estaria diluída em diversos exercícios sociais.
Nestas situações, o usuário deve ter um imenso cuidado na comparação das informações entre o exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 e os valores posteriores.
Curso de Contabilidade Básica - Editora Atlas - César Augusto Tibúrcio Silva e Fernanda Fernandes
Rodrigues (prelo)
Queda do petróleo e a crise na Rússia
Monica de Bolle- Artigo publicado no O Globo a Mais de 11/12/2014)
“A maior parte das pessoas, hoje, acredita
pertencer a uma espécie que é dona de seu destino. Trata-se de fé, não
de ciência. Jamais cogitamos tempo em que baleias ou gorilas viessem a
ser donos de seus destinos. Por que os seres humanos?”. Ficaram
intrigados? Leiam Straw Dogs, do filósofo John Gray. Se ainda estiverem interessados, leiam o resto do artigo.
Alguns líderes globais e, provavelmente, a
maior parte dos integrantes do mercado, acham que a queda súbita e
intensa dos preços do petróleo – o barril do Brent acaba de alcançar a
menor cotação em cinco anos – é algo bom para a economia mundial. Há
quem acredite cegamente nisso, ante as evidências de que o consumidor
americano está mais otimista, ante os dados positivos do mercado de
trabalho e os ganhos salariais de 0,4% registrados no mês de novembro.
Em novembro, o mercado de trabalho americano criou mais de 300 mil
vagas, levando a média dos últimos seis meses a 258 mil novos postos.
Isso representa cerca de 100 mil vagas a mais do que as que foram
criadas mês a mês em 2011 e 2012. Turbinado pela queda do preço da
gasolina, o consumidor americano se anima e leva junto a economia
mundial, não? Trata-se de progresso, verdade? Dessa história de sermos
donos de nossos destinos e tudo o mais.
Bem, não necessariamente. A recessão no Japão
acaba de se aprofundar devido aos aumentos de impostos executados em
abril desse ano, aproximando o país da deflação, força gravitacional da
qual o Japão não parece conseguir escapar por muito tempo. Na Europa,
Mario Draghi bem que tentou se mostrar otimista com a queda do petróleo,
mas, no fim, deixou clara a sua preocupação com as implicações que a
queda do principal insumo produtivo pode ter para os riscos crescentes
de deflação na zona do euro. Some-se a isso a crise econômica na Rússia e
a exacerbação que os riscos geopolíticos podem sofrer se o mergulho do
petróleo for motivo para que Vladimir Putin, tencionando desviar atenção
dos problemas domésticos, intensifique as investidas Ucrânia adentro,
ou mesmo estendendo a estratégia “wag the dog” para outros
países da ex-União Soviética. Como discuti em artigo recente nesse
espaço, a Rússia é grande risco global ignorado pelos mercados, que,
nesse aspecto, parecem professar ato de fé à la Straw Dogs.
Imaginem se a Rússia ameaçar não pagar os US$ 700 bilhões que suas
empresas devem aos bancos do Ocidente porque… bem, entre outras razões
porque perdeu sua principal fonte de recursos, além de estar sofrendo
com as sanções impostas pelos EUA e, sobretudo, pela Europa?
Quem ganha e quem perde com os preços do
petróleo em queda e qual o impacto de tudo isso sobre a economia
mundial? A resposta é bem menos óbvia do que parece. De um lado, EUA e
China, que acaba de registrar o maior superávit na balança comercial em
novembro devido à queda do petróleo. De outro, Japão, Europa e Rússia,
ameaçando o frágil equilíbrio que parece ter sido alcançado pela
economia global nos últimos meses. Em meio a isso, os países emergentes
em desaceleração ficam, inevitavelmente, à deriva.
Num mundo que ainda carrega as cicatrizes e
sequelas da crise internacional, a queda do petróleo é bem menos
auspiciosa do que parece, o destino, tão imponderável quanto
incontrolável. Se fôssemos gorilas, nada disso teria importância.
Astronauta e Imposto de Renda
Se você reclama do Leão, imagine os astronautas dos Estados Unidos. Mesmo no espaço, estes contribuintes serão obrigados a apresentar a declaração de imposto de renda no dia 15 de abril, prazo final do fisco daquele país. O IRS, a entidade que corresponde a Secretaria da Receita Federal do Brasil, não faz exceção, mesmo que estejam em órbita. A situação cria algumas questões curiosas. Uma delas:
Os americanos que vivem no exterior poderia reivindicar uma isenção sobre os rendimentos auferidos em um país estrangeiro, por exemplo. Poderia um astronauta também reivindicam a isenção?
Os americanos que vivem no exterior poderia reivindicar uma isenção sobre os rendimentos auferidos em um país estrangeiro, por exemplo. Poderia um astronauta também reivindicam a isenção?
Liberdade de Expressão
 Duas empresas pornográficas e um grupo de atores de filmes adultos perderam a luta contra uma lei da cidade de Los Angeles que obrigava o uso de preservativos nos filmes adultos. O argumento das empresas e dos atores era a primeira emenda da constituição dos Estados Unidos. A famosa emenda diz respeito a liberdade de expressão. Outro argumento é que a lei criava uma censura prévia e impedia a capacidade de "create expression." A lei impediria a capacidade do setor de retratar o sexo num mundo despreocupado.
Duas empresas pornográficas e um grupo de atores de filmes adultos perderam a luta contra uma lei da cidade de Los Angeles que obrigava o uso de preservativos nos filmes adultos. O argumento das empresas e dos atores era a primeira emenda da constituição dos Estados Unidos. A famosa emenda diz respeito a liberdade de expressão. Outro argumento é que a lei criava uma censura prévia e impedia a capacidade de "create expression." A lei impediria a capacidade do setor de retratar o sexo num mundo despreocupado. (Fonte: Baseado aqui)
16 dezembro 2014
Curso de Contabilidade Básica: Informações para Captação de Recursos
As informações contábeis possuem várias utilidades. Uma delas é servir de base para captação de recursos. A empresa apresenta suas demonstrações para tentar provar a viabilidade para o investidor em colocar dinheiro nos seus projetos. Neste tipo de relatório, as informações devem ajudar a convencer e ressalvar os aspectos positivos da empresa, mais do que tradicionalmente as demonstrações fazem.
Quando a informação é apresentada com esta finalidade, além das demonstrações contábeis a empresa também mostra outras informações. Numa pequena empresa o volume de informações é reduzido, mas numa grande empresa isto pode chegar a centenas de páginas de documentos. Em algumas situações a empresa peca pelo excesso, para evitar um eventual litígio no futuro.
A empresa que administra o aeroporto de Guarulhos concluiu recentemente uma captação de recursos através de debêntures. O volume de informação ultrapassou a mil páginas e inclui o estatuto social da empresa, relatório de classificação da emissão, as demonstrações contábeis e muito mais informação. São mais de mil páginas.
Separamos para o leitor uma informação sobre a oferta: quando a empresa destaca o que irá ocorrer com seu endividamento após a oferta. Veja o extrato a seguir:
O valor de empréstimos e financiamentos irá reduzir de 485 milhões para 191 milhões, enquanto o item “debêntures” irá aumentar de 298 milhões para 592 milhões. Vale a pena? Observe que a empresa está trocando uma dívida de curto prazo (circulante) por outra de longo prazo.
Quando a informação é apresentada com esta finalidade, além das demonstrações contábeis a empresa também mostra outras informações. Numa pequena empresa o volume de informações é reduzido, mas numa grande empresa isto pode chegar a centenas de páginas de documentos. Em algumas situações a empresa peca pelo excesso, para evitar um eventual litígio no futuro.
A empresa que administra o aeroporto de Guarulhos concluiu recentemente uma captação de recursos através de debêntures. O volume de informação ultrapassou a mil páginas e inclui o estatuto social da empresa, relatório de classificação da emissão, as demonstrações contábeis e muito mais informação. São mais de mil páginas.
Separamos para o leitor uma informação sobre a oferta: quando a empresa destaca o que irá ocorrer com seu endividamento após a oferta. Veja o extrato a seguir:
O valor de empréstimos e financiamentos irá reduzir de 485 milhões para 191 milhões, enquanto o item “debêntures” irá aumentar de 298 milhões para 592 milhões. Vale a pena? Observe que a empresa está trocando uma dívida de curto prazo (circulante) por outra de longo prazo.
Curso de Contabilidade Básica - Editora Atlas - César Augusto Tibúrcio Silva e Fernanda Fernandes
Rodrigues (prelo)
Assinar:
Postagens (Atom)